-
A empregabilidade do licenciado em filosofia em Portugal
António Paulo Costa
O ensino tem sido a saída profissional — agora praticamente esgotada — daqueles que, por vocação, por curiosidade ou por falta de alternativas (por distracção, também) fizeram uma licenciatura em Filosofia em Portugal. Mas, no ensino superior, o recrutamento de docentes tem sido insignificante; e, no ensino secundário, a quebra demográfica da população portuguesa e uma política educativa que impede a criação de turmas mais pequenas (com o consequente aumento do número destas e, logo, do número de professores necessários), faz com que a contratação de novos docentes tenha estagnado nos últimos anos. Parece evidente que ambas as carreiras estão relacionadas: como no secundário não há necessidade de recrutamento de mais pessoal docente, as licenciaturas em Filosofia deixam, progressivamente, de se tornar atractivas, quer para aqueles para quem ser professor de Filosofia seria uma vocação, quer para aqueles que veriam a docência como um mal menor. Assim, o número de licenciandos em Filosofia tem tido uma tendência genérica para estagnar. Consequentemente, quase não há necessidade de contratação de novos assistentes para as faculdades, cujo quadro actual, sob a ditadura da ratio, parece poder assegurar todo o serviço lectivo. Daqui decorre ainda outro problema: os recém licenciados questionam-se sobre as vantagens de cursarem as pós-graduações, posto que, se as faculdades não recrutam, parece também não haver saídas profissionais para os que optam por complementar a sua formação básica com um investimento na via científica. O quadro actual da empregabilidade do licenciado em Filosofia em Portugal é, grosso modo, este. E é muito mau, quer consideremos apenas o ensino, quer consideremos também outras saídas profissionais.
Porém, é ilusório pensar que um tal quadro se deve apenas a contingências demográficas ou políticas. Portugal é um país ainda atrasado, apesar de os portugueses terem visto melhorar consideravelmente o seu nível de vida material nas últimas décadas. Contudo, é difícil defender que o nível de vida intelectual e cultural tenha acompanhado o nível de vida material: a mais desatenta comparação entre nós e as nações civilizadas mostra, iniludivelmente, a dimensão do nosso atraso, visível nas taxas de analfabetismo, de abandono e de insucesso escolar, nos índices de leitura e de literacia, no número de licenciados, mestres e doutores, entre outros. Defendo que a empregabilidade dos licenciados em Filosofia (e, em geral, dos licenciados em cursos artísticos e humanísticos) é, também, um bom sintoma do estado de desenvolvimento intelectual e cultural do país. Em proporção directa: quanto maior fosse este, maior seria aquela. E assim se percebe que o drama da empregabilidade dos licenciados em Filosofia é um drama de países terceiro-mundistas.
Apenas em países onde a grande questão posta pela sociedade, sobre a Filosofia, é a de saber para que serve (e as correlativas "por que existe a disciplina no secundário?", "por que é que o erário público paga milhares em ordenados aos professores e investigadores em Filosofia?", etc.) é que a empregabilidade se torna um drama para o licenciado em Filosofia. Tal não acontece em sociedades desenvolvidas, em que a actividade filosófica está viva, em que as competências dos filósofos são reconhecidas (porque são úteis de alguma maneira) e em que os graduados em Filosofia são recrutados para os mais variados lugares no mundo empresarial, político e social, para além do ensino. Para isto concorrem dois factores: a maturidade civilizacional e a qualidade do trabalho filosófico. Ora, em Portugal isto não é o caso: nem atingimos uma tal maturidade civilizacional, nem existe uma comunidade filosófica cujo trabalho seja reconhecido como sendo de qualidade (e ainda menos como sendo útil). Evidentemente, o rumo das mudanças em Portugal, nos últimos anos, criou um quadro altamente desfavorável e desincentivador da prática e da intervenção filosóficas. A consciência crítica, quando existe, aparece como sendo algo desconfortável à mentalidade colectiva do "politicamente correcto" e os filósofos portugueses, dependentes que estão deste tecido social e das instâncias decisoras, parecem preferir o conforto de um silêncio cúmplice do que assumirem uma tradição pró-socrática de denúncia da ignorância, da incompetência e da mediocridade. Mas, com um tal silêncio bem comportado, não admira que o problema da empregabilidade se ponha. Vejamos porquê.
Um dos sinais mais claros do desequilíbrio entre a vida material e a vida espiritual portuguesa é dado pela defesa generalizada da falácia de que não há outra alternativa, numa sociedade moderna, senão a de assentar as relações sociais no paradigma económico neoliberal, que as reduz às trocas comerciais, ao mercantilismo, ao monetarismo. A Filosofia, obviamente, parece não encaixar neste paradigma: "Que se ganha com a Filosofia?" — eis a questão ouvida nos cafés (se alguém se lembrasse disso!), nos lares novos-ricos, nas salas de aula. Em grande parte, têm razão em perguntar aqueles que as colocam: têm razão em perguntar "para que serve a Filosofia à sociedade moderna?" porque o modo de vida estupidamente materialista, economicista e individualista que adoptámos é um terreno que alimenta bem a persistência de tal pergunta; têm razão porque a filosofia praticada ao longo de anos e anos nas salas de aula tem sido, quase sempre, algo sem sentido para os estudantes (e pergunto-me se mesmo os professores sabem o que estão a ensinar), uma arte lexical de exibir palavras rebuscadas, um exercício de memorização acrítica ou uma catequese filosófica maniqueista ("a filosofia ou as trevas..."). Numa palavra, um caldo de incompetência e de impreparação a que, recentemente, um novo ingrediente se lhe juntou: um "estado terminal de apatia" (para parafrasear um conhecido colunista do Diário de Notícias); têm razão em perguntar porque não se vê a participação positiva dos filósofos na vida intelectual, cultural, moral e política da sociedade portuguesa (e excluo peremptoriamente as intervenções públicas do Conselho de Ética para as Ciências da Vida, o qual obviamente não faz Filosofia, mas sim catequese cristã em sede errada; ou as de um ou outro filósofo mais mediatizado por motivos estranhos à Filosofia); têm razão em perguntar, finalmente, porque não há filósofos que liderem uma voz contra o estado de coisas português — um estado sem projecto, sem utopia, sem estratégia, sem autocrítica. Em suma, a demissão dos filósofos está em todo o lado.
Não espanta, pois, que perante o falso dilema entre a matéria e o espírito, e face à falência da vida intelectual, os portugueses julguem haver uma única opção. Poderiam os filósofos portugueses acusar, com alguma justiça, os sectores responsáveis pelas políticas educativas de pactuarem com o actual estado de coisas. Há dados objectivos que tornam esta crítica fundada: a revisão curricular no secundário, em curso, não tem sido um modelo de diálogo entre tais sectores e os profissionais de Filosofia, apesar das aparências. Percebe-se que há certos interesses comerciais, atendidos pela tutela da Educação, que pretendem que esta revisão seja meramente cosmética, mais do que uma reforma profunda do ensino da Filosofia, de modo a que não haja lugar aos novos investimentos que a devem acompanhar. E até um órgão consultivo, mas com peso nas decisões governamentais para a Educação, defendeu recentemente o afastamento da Filosofia dos currículos liceais (vide "Parecer n.º2/2000" do CNE, Diário da República, II Série, n.º121). Se o dilema entre uma vida materialista e uma vida espiritual já era falso, a acção dos sectores com responsabilidades torna a opção impossível.
Porém, é na inacreditável reacção da comunidade filosófica a tudo o que seja mudança que quero centrar a atenção. E a reacção é de inércia. E será esta inércia, esta apatia, esta indiferença, aquilo que contribui para que a Filosofia praticada seja como é — má — e as reformas essenciais não se façam. Aparentemente, desde que esteja garantido um subsídio à investigação, ou desde que o ordenado de cada um esteja assegurado, parece que isso é suficiente. Uma má consciência, havendo alguma consciência, faz-se sentir: quando interpelados acidamente por cidadãos, por pais, por vizinhos, por alunos, sobre a utilidade da filosofia ou que andam realmente a fazer, os filósofos nacionais coram e balbuciam uma resposta tímida, sem convicção e cheia de sentimentos de culpa. Pudera! Como esperamos que alguém compreenda o que se pode ganhar com a Filosofia, se a reacção dos pretensos protagonistas é esta? Como podemos esperar que alguém reconheça o valor dos filósofos e os empregue, se é evidente a incapacidade de demonstrarmos inequivocamente que a Filosofia é algo indispensável em qualquer quadrante da vida pública de um país civilizado? Não é difícil perceber como tudo isto está implicado na questão da empregabilidade. A fraquíssima empregabilidade dos filósofos portugueses é causada, em primeira instância, por esses mesmos filósofos, cuja atitude demissionária ou cuja incompetência filosófica alimenta a mentalidade dominante. Os sectores responsáveis e as contingências sociais apenas a catalisam.
 Há muito que se enraizou a ideia de que o ensino é a única saída profissional. Mas terá de ser assim? Estarão os licenciados em Filosofia portugueses condenados ao desemprego e à esmola familiar? De facto, se se toma o ensino como sendo a única saída, e porque tal saída se esgotou, parece ser este o quadro a esperar. Paradoxalmente, as faculdades continuam a proporcionar formação para o ensino, como se algum daqueles licenciados pudesse vir a exercer funções docentes nos anos mais próximos (e longínquos?). E aqui chegamos ao meu ponto neste artigo. Poucas instituições universitárias tomam como sua a responsabilidade de garantir emprego aos seus licenciados. Muitos dirão que talvez essa não seja uma obrigação das universidades: a estas cabe formar, ao Estado e ao mercado cabe criar as condições de emprego. Quero defender que ambas as coisas não podem ser desligadas. A empregabilidade está certamente dependente das contingências do mercado de trabalho e das intervenções reguladoras do Estado (aliás, o próprio Estado é empregador). Mas a empregabilidade depende, igualmente, da qualidade das universidades e dos cursos aí facultados. Ainda que a falta de saídas profissionais se faça sentir numa dada área — e é o caso de Filosofia e do ensino —, uma formação deficiente apenas estreitará as perspectivas laborais dos licenciados, enquanto que uma formação de qualidade tornaria muito mais amplas as suas possibilidades de emprego. E, se essas possibilidades fossem boas, a falta de empregos no ensino teria uma dimensão menos trágica para os licenciados em Filosofia do que actualmente tem. Cabe, assim, às universidades garantir, pela sua qualidade, a empregabilidade dos seus licenciados. A garantia não tem de ser formal, isto é, não se pretende que o caloiro possa exigir um contrato de trabalho no dia em que ingressa num curso. A garantia a que me refiro é criada pela qualidade do ensino e da investigação. E o mercado empregador, especialmente o privado, percebe o que é uma licenciatura de qualidade. Assim, penso que a par com outros indicadores, as universidades deveriam ser avaliadas pela sua capacidade de inserir os seus (ex-)estudantes no mercado de trabalho. Daqui não se segue que eu defenda um cariz profissionalizante para os cursos aí ministrados; nem se segue a defesa do absurdo de garantir formalmente contratos de trabalho a todos os estudantes. Segue-se, apenas, que as coisas não podem ficar como estão, especialmente no caso de Filosofia.
Há muito que se enraizou a ideia de que o ensino é a única saída profissional. Mas terá de ser assim? Estarão os licenciados em Filosofia portugueses condenados ao desemprego e à esmola familiar? De facto, se se toma o ensino como sendo a única saída, e porque tal saída se esgotou, parece ser este o quadro a esperar. Paradoxalmente, as faculdades continuam a proporcionar formação para o ensino, como se algum daqueles licenciados pudesse vir a exercer funções docentes nos anos mais próximos (e longínquos?). E aqui chegamos ao meu ponto neste artigo. Poucas instituições universitárias tomam como sua a responsabilidade de garantir emprego aos seus licenciados. Muitos dirão que talvez essa não seja uma obrigação das universidades: a estas cabe formar, ao Estado e ao mercado cabe criar as condições de emprego. Quero defender que ambas as coisas não podem ser desligadas. A empregabilidade está certamente dependente das contingências do mercado de trabalho e das intervenções reguladoras do Estado (aliás, o próprio Estado é empregador). Mas a empregabilidade depende, igualmente, da qualidade das universidades e dos cursos aí facultados. Ainda que a falta de saídas profissionais se faça sentir numa dada área — e é o caso de Filosofia e do ensino —, uma formação deficiente apenas estreitará as perspectivas laborais dos licenciados, enquanto que uma formação de qualidade tornaria muito mais amplas as suas possibilidades de emprego. E, se essas possibilidades fossem boas, a falta de empregos no ensino teria uma dimensão menos trágica para os licenciados em Filosofia do que actualmente tem. Cabe, assim, às universidades garantir, pela sua qualidade, a empregabilidade dos seus licenciados. A garantia não tem de ser formal, isto é, não se pretende que o caloiro possa exigir um contrato de trabalho no dia em que ingressa num curso. A garantia a que me refiro é criada pela qualidade do ensino e da investigação. E o mercado empregador, especialmente o privado, percebe o que é uma licenciatura de qualidade. Assim, penso que a par com outros indicadores, as universidades deveriam ser avaliadas pela sua capacidade de inserir os seus (ex-)estudantes no mercado de trabalho. Daqui não se segue que eu defenda um cariz profissionalizante para os cursos aí ministrados; nem se segue a defesa do absurdo de garantir formalmente contratos de trabalho a todos os estudantes. Segue-se, apenas, que as coisas não podem ficar como estão, especialmente no caso de Filosofia.
Se o problema já tivesse sido pensado seriamente por quem oferece e por quem procura cursos de Filosofia, o estado de coisas seria diferente: desde logo, porque o modo reinante de praticar a Filosofia, tradicionalmente verborreico, mimético e cinzento, teria de ser banido para dar lugar a uma prática rigorosa, argumentativa, crítica e fecunda, sem a qual a Filosofia continuará a ser "inútil", um mundo de papel bolorento e de filósofos mortos venerados ad nauseum. Quem sabe pensar crítica e rigorosamente, quem sabe disputar pontos de vista argumentativamente, quem tem visão estratégica, utopia e projecto para o mundo que o rodeia não tem problemas de emprego. Mas o licenciado em Filosofia está longe de ter esta formação. Aprende a comentar, a interpretar, a palavrear. Cita autores, faz notas de rodapé, copia bibliografias, parafraseia comentadores. Não discute, nem quer discutir. Não argumenta, nem sabe argumentar. É incapaz de reconhecer um argumento falacioso ou duas teses inconsistentes. E isto torná-lo-á sempre inútil, quer num mundo onde só o dinheiro parece interessar, quer no almejado melhor dos mundos possíveis, onde a Filosofia teria a dignidade perdida. Não é apenas a vida intelectual portuguesa que é pobre: também é a pobreza filosófica em que temos vindo a ser (de)formados, e de que somos cúmplices, que é a nossa desgraça. Há que rebentar com esta apatia, com a comiseração, com o hábito de não sermos (os) melhores. A Filosofia pode ser praticada de outra maneira e essa maneira é seguramente útil à sociedade. Se assim for, o reconhecimento social advirá naturalmente e os licenciados em Filosofia serão certamente recrutados para empresas e instituições e para onde quer que seja necessário alguém munido de um espírito crítico, rigoroso, persuasivo e produtivo.
A nova formação advogada não consiste em substituir apenas umas disciplinas por outras nos currículos escolares, universitários ou do secundário: consiste fundamentalmente em mudar o tipo de trabalho feito em torno dos problemas, das teorias e dos argumentos tradicionais em Filosofia; consiste em nos apropriarmos dos instrumentos críticos adequados para enfrentar esses problemas, teorias e argumentos. Tais instrumentos são entendidos, perversamente, como constituindo a matéria de mais uma disciplina filosófica ao lado de outras — a Lógica. A Lógica não é uma disciplina de símbolos vazios, uma formalização desligada do discurso natural, uma moda anglo-saxónica. Não é apenas mais uma disciplina filosófica cultivada por alguns excêntricos com espírito geométrico e redutor. Ela é a ciência da inferência rigorosa. Mas não é a única: existe, na Filosofia praticada nos países desenvolvidos, uma área praticamente desconhecida da tradição portuguesa e que é designada por "critical thinking". A par com o estudo aturado das várias disciplinas filosóficas, fornece uma formação indispensável para que possa ser feito um trabalho consequente diante dos autores, dos seus livros, das suas teorias e dos seus argumentos. Se houvesse uma formação tendencialmente crítica como a que estou a advogar, ao invés de uma tradição exegética e ensaística, os licenciados em Filosofia saberiam como formular rigorosamente os problemas filosóficos, conheceriam quais as teorias disponíveis, compreenderiam os argumentários existentes e correlativas objecções — numa palavra, saberiam usar a sua razão para debater consequente e vivamente as matérias filosóficas, desenterrando-as das bibliotecas poeirentas. E isso dar-lhes-ia o hábito de pensar estrategicamente; dar-lhes-ia, adicionalmente, uma formação desejada por qualquer instituição ou empresa moderna; dar-lhes-ia, finalmente, um emprego. Esta é a razão pela qual qualquer curso de uma boa universidade europeia ou americana exige e proporciona aos seus alunos o domínio de certos instrumentos lógicos, formais e informais — para que saibam pensar. E pensar rigorosamente é tudo o que é preciso. Mas, entre nós isto é visto como uma presunção, uma rebeldia desviante, uma irreverência de juventude. E assim se fabricam licenciados amorfos, tacanhos, acríticos, tristes. A falência da tradição dita "continental", exegética e pós-modernista, até agora dominante na academia portuguesa, está à vista. Não gera filósofos nem gera empregos. Isto é um argumento factual suficiente para que tal tradição fosse pura e simplesmente banida das faculdades e liceus. À tradição crítica é devido, no mínimo, o benefício da dúvida, estando à vista os resultados animadores que tal tradição tem nos níveis de empregabilidade dos licenciados em Filosofia americanos e ingleses.
A empregabilidade dos licenciados em Filosofia, em Portugal, deve ser tornada um objectivo central dos cursos de Filosofia e é em função dela que tais cursos se devem organizar a nível de currículos e a nível de métodos. Urge mudar o que se estuda e como se estuda em função da utilidade do que se estuda, e esta utilidade é definida em termos de empregabilidade. Perguntemo-nos, por exemplo, onde está a reflexão filosófica nacional sobre o fenómeno das novas tecnologias, omnipresentes na sociedade portuguesa. Que formação têm os licenciados em Filosofia para manipular basicamente um computador? E onde encontrar uma formação consistente em teoria da decisão, cujo saber é crucial no mundo económico moderno? Que sabemos para poder discutir ética empresarial? Onde adquirir as competências argumentativas indispensáveis para qualquer cargo público, para a investigação, para os tribunais, para a política, para os media? Onde aprender a debater os mais prementes problemas éticos que as biotecnologias fazem emergir? Poderá dizer-se que as universidades e os liceus, no que à Filosofia respeita, estão a preparar cidadãos informados, críticos e intervenientes, como se pode ler em qualquer carta de intenções do sistema educativo? Estarão os currículos liceais e universitários a acompanhar o que acontece? Estarão estes (e outros) problemas a ser discutidos consequentemente nas nossas salas de aula? Estarão os professores e, em geral, os licenciados em Filosofia portugueses aptos a liderar o debate destes problemas? A resposta é tragicamente negativa. Não fomos preparados e não nos preparámos para tal. Hesitamos ser "politicamente incorrectos", como Sócrates, e morrer com a cicuta. Não sabemos, sequer, o que fazer para sacudir o torpor e a "apatia terminal", o que ler, o que escrever, onde e como publicar, a quem nos associarmos, o que temos a dizer. Estamos mortos. E aos mortos ninguém dá emprego.
Suponho que alguns verão a tese pragmática que associa os currículos e os métodos à empregabilidade com desconsolo e desconfiança. Muitos insistirão na questão de saber se cabe às escolas e universidades cultivar um ensino profissionalizante. Insisto: ele não está implicado no modelo de qualidade que aqui defendo. E é importante não misturar a universidade com o liceu — neste, quanto menor for o grau de escolaridade, maior deverá ser a generalidade dos currículos, que deverão conciliar a formação humanística e artística com a preparação técnica e científica; naquela, defendo que os currículos e métodos se deverão orientar prioritariamente para a qualidade, avaliada pela bitola da empregabilidade (a par com outros critérios relevantes). As razões pelas quais defendo isto são as seguintes: a formação universitária actual prepara mal os licenciados para o mercado de trabalho, mas também não se vê para o que esteja ela a preparar. Ao assumir sem complexos o ónus de tornar empregáveis boa parte dos seus licenciados, a universidade tomaria um rumo definido e objectivamente avaliável. À espera de dinheiros públicos para que a investigação avance, o cérebro nacional definha, as instalações degradam-se, a funcionalização emerge, o clientelismo alastra. Mas caso o saber que aí se cultivasse e os recursos humanos existentes tivessem outra qualidade e produzissem algo que fosse atractivo para os agentes sociais e económicos, estes tornar-se-iam investidores nessas universidades e na sua massa humana. Numa palavra, a universidade seria tão bom investimento a prazo quanto a especulação bolsista o parece ser a curto prazo. E isto é ilustrado, uma vez mais, pelas simbioses existentes entre as melhores universidades do mundo e os agentes económicos que nelas apostam, beneficiando ambos, e também os países que as albergam. Pelo contrário, as universidades portuguesas continuam a acreditar que se pode investigar e ensinar independentemente do que se passa neste mundo, nem mudando elas, nem sendo capazes de modificar tal mundo. Agarradas ao velho preconceito da (pretensa) independência e da autonomia, continuam a perpetuar uma tradição contemplativa e subsídio-dependente. Os intelectuais invectivam a decadência, talvez real, dos costumes e lamentam a redução do social e do cultural ao económico, dizendo-se mal compreendidos no que andam a fazer, tão mesquinha que é a classe dirigente e tão ignorante que é povo. Pois. Possivelmente, têm alguma razão. Mas a classe dirigente é quem decide, e é eleita pelo povo alegadamente inculto, que é, também, contribuinte. Temos de enfrentar o desafio de produzir saber e recursos humanos que, mais do que lamentar-se, estejam capacitados para intervir e demonstrar que o país não pode viver à sua margem. Temos de tornar-nos úteis a esse país amesquinhado e culturalmente atrasado, para simultaneamente nele podermos intervir. Temos de dar, para que possamos modificar e, então, exigir. E para isso, deveremos preparar-nos convenientemente, o que não tem sido o caso. O divórcio tradicional entre as vacuamente altivas universidades e o mundo de gente materialista e arrogante que, quer se queira quer não, se agarrou à ilusão do consumo, já provou ser desastroso para aquelas e para esta (que parece viver bem com isso). A questão do financiamento do ensino superior é apenas mais uma faceta desse divórcio; o problema da empregabilidade, que aqui importa, é mais outra.
O quadro que tracei não é um exclusivo da Filosofia, ou dos graduados em Filosofia. Mas não encontro consolação em saber disto. A fortiori se exige que tenhamos ideias inovadoras, estratégia, utopia e força de vontade. Sejamos exigentes connosco, com os professores, com os currículos e métodos, e com aqueles que, arrogante e ignorantemente, desprezam a Filosofia. Pensemos sobre o que sabemos fazer bem e como colocar esse saber — filosófico que seja, evidentemente — ao serviço do colectivo. Consequentemente, ao nosso próprio serviço. Abandonemos a esperança em obter, no fim do curso, um emprego pela tradicional "cunha". Envergonhemo-nos da esmola familiar que parece perpetuar-se. Sejamos "empresários filosóficos" (ou filósofos empreendedores) sem complexos, sem preconceitos, sem anátemas, em vez de meros desempregados ou funcionários resmungões e conformados. Estudemos muito e preparemo-nos melhor. Comparemos o que somos com os melhores exemplos estrangeiros, se necessário, para avaliarmos o que nos falta fazer e aprender. Para uma tal comparação, termino com uma sugestão de consulta aos sites abaixo listados, que darão ao leitor uma ideia daquilo que não se passa com a Filosofia em Portugal. Não suponho, é claro, que a vida dos filósofos estrangeiros seja um mar de rosas; mas, se a obtenção de um emprego é um objectivo que depende do mundo, acredito que depende ainda mais de nós próprios.
António Paulo Costa
Copyright © 1997–2010 criticanarede.com • ISSN 1749-8457
Extraído de Criticanarede

A empregabilidade do licenciado em filosofia em Portugal
António Paulo Costa
O ensino tem sido a saída profissional — agora praticamente esgotada — daqueles que, por vocação, por curiosidade ou por falta de alternativas (por distracção, também) fizeram uma licenciatura em Filosofia em Portugal. Mas, no ensino superior, o recrutamento de docentes tem sido insignificante; e, no ensino secundário, a quebra demográfica da população portuguesa e uma política educativa que impede a criação de turmas mais pequenas (com o consequente aumento do número destas e, logo, do número de professores necessários), faz com que a contratação de novos docentes tenha estagnado nos últimos anos. Parece evidente que ambas as carreiras estão relacionadas: como no secundário não há necessidade de recrutamento de mais pessoal docente, as licenciaturas em Filosofia deixam, progressivamente, de se tornar atractivas, quer para aqueles para quem ser professor de Filosofia seria uma vocação, quer para aqueles que veriam a docência como um mal menor. Assim, o número de licenciandos em Filosofia tem tido uma tendência genérica para estagnar. Consequentemente, quase não há necessidade de contratação de novos assistentes para as faculdades, cujo quadro actual, sob a ditadura da ratio, parece poder assegurar todo o serviço lectivo. Daqui decorre ainda outro problema: os recém licenciados questionam-se sobre as vantagens de cursarem as pós-graduações, posto que, se as faculdades não recrutam, parece também não haver saídas profissionais para os que optam por complementar a sua formação básica com um investimento na via científica. O quadro actual da empregabilidade do licenciado em Filosofia em Portugal é, grosso modo, este. E é muito mau, quer consideremos apenas o ensino, quer consideremos também outras saídas profissionais.
Porém, é ilusório pensar que um tal quadro se deve apenas a contingências demográficas ou políticas. Portugal é um país ainda atrasado, apesar de os portugueses terem visto melhorar consideravelmente o seu nível de vida material nas últimas décadas. Contudo, é difícil defender que o nível de vida intelectual e cultural tenha acompanhado o nível de vida material: a mais desatenta comparação entre nós e as nações civilizadas mostra, iniludivelmente, a dimensão do nosso atraso, visível nas taxas de analfabetismo, de abandono e de insucesso escolar, nos índices de leitura e de literacia, no número de licenciados, mestres e doutores, entre outros. Defendo que a empregabilidade dos licenciados em Filosofia (e, em geral, dos licenciados em cursos artísticos e humanísticos) é, também, um bom sintoma do estado de desenvolvimento intelectual e cultural do país. Em proporção directa: quanto maior fosse este, maior seria aquela. E assim se percebe que o drama da empregabilidade dos licenciados em Filosofia é um drama de países terceiro-mundistas.
Apenas em países onde a grande questão posta pela sociedade, sobre a Filosofia, é a de saber para que serve (e as correlativas "por que existe a disciplina no secundário?", "por que é que o erário público paga milhares em ordenados aos professores e investigadores em Filosofia?", etc.) é que a empregabilidade se torna um drama para o licenciado em Filosofia. Tal não acontece em sociedades desenvolvidas, em que a actividade filosófica está viva, em que as competências dos filósofos são reconhecidas (porque são úteis de alguma maneira) e em que os graduados em Filosofia são recrutados para os mais variados lugares no mundo empresarial, político e social, para além do ensino. Para isto concorrem dois factores: a maturidade civilizacional e a qualidade do trabalho filosófico. Ora, em Portugal isto não é o caso: nem atingimos uma tal maturidade civilizacional, nem existe uma comunidade filosófica cujo trabalho seja reconhecido como sendo de qualidade (e ainda menos como sendo útil). Evidentemente, o rumo das mudanças em Portugal, nos últimos anos, criou um quadro altamente desfavorável e desincentivador da prática e da intervenção filosóficas. A consciência crítica, quando existe, aparece como sendo algo desconfortável à mentalidade colectiva do "politicamente correcto" e os filósofos portugueses, dependentes que estão deste tecido social e das instâncias decisoras, parecem preferir o conforto de um silêncio cúmplice do que assumirem uma tradição pró-socrática de denúncia da ignorância, da incompetência e da mediocridade. Mas, com um tal silêncio bem comportado, não admira que o problema da empregabilidade se ponha. Vejamos porquê.
Um dos sinais mais claros do desequilíbrio entre a vida material e a vida espiritual portuguesa é dado pela defesa generalizada da falácia de que não há outra alternativa, numa sociedade moderna, senão a de assentar as relações sociais no paradigma económico neoliberal, que as reduz às trocas comerciais, ao mercantilismo, ao monetarismo. A Filosofia, obviamente, parece não encaixar neste paradigma: "Que se ganha com a Filosofia?" — eis a questão ouvida nos cafés (se alguém se lembrasse disso!), nos lares novos-ricos, nas salas de aula. Em grande parte, têm razão em perguntar aqueles que as colocam: têm razão em perguntar "para que serve a Filosofia à sociedade moderna?" porque o modo de vida estupidamente materialista, economicista e individualista que adoptámos é um terreno que alimenta bem a persistência de tal pergunta; têm razão porque a filosofia praticada ao longo de anos e anos nas salas de aula tem sido, quase sempre, algo sem sentido para os estudantes (e pergunto-me se mesmo os professores sabem o que estão a ensinar), uma arte lexical de exibir palavras rebuscadas, um exercício de memorização acrítica ou uma catequese filosófica maniqueista ("a filosofia ou as trevas..."). Numa palavra, um caldo de incompetência e de impreparação a que, recentemente, um novo ingrediente se lhe juntou: um "estado terminal de apatia" (para parafrasear um conhecido colunista do Diário de Notícias); têm razão em perguntar porque não se vê a participação positiva dos filósofos na vida intelectual, cultural, moral e política da sociedade portuguesa (e excluo peremptoriamente as intervenções públicas do Conselho de Ética para as Ciências da Vida, o qual obviamente não faz Filosofia, mas sim catequese cristã em sede errada; ou as de um ou outro filósofo mais mediatizado por motivos estranhos à Filosofia); têm razão em perguntar, finalmente, porque não há filósofos que liderem uma voz contra o estado de coisas português — um estado sem projecto, sem utopia, sem estratégia, sem autocrítica. Em suma, a demissão dos filósofos está em todo o lado.
Não espanta, pois, que perante o falso dilema entre a matéria e o espírito, e face à falência da vida intelectual, os portugueses julguem haver uma única opção. Poderiam os filósofos portugueses acusar, com alguma justiça, os sectores responsáveis pelas políticas educativas de pactuarem com o actual estado de coisas. Há dados objectivos que tornam esta crítica fundada: a revisão curricular no secundário, em curso, não tem sido um modelo de diálogo entre tais sectores e os profissionais de Filosofia, apesar das aparências. Percebe-se que há certos interesses comerciais, atendidos pela tutela da Educação, que pretendem que esta revisão seja meramente cosmética, mais do que uma reforma profunda do ensino da Filosofia, de modo a que não haja lugar aos novos investimentos que a devem acompanhar. E até um órgão consultivo, mas com peso nas decisões governamentais para a Educação, defendeu recentemente o afastamento da Filosofia dos currículos liceais (vide "Parecer n.º2/2000" do CNE, Diário da República, II Série, n.º121). Se o dilema entre uma vida materialista e uma vida espiritual já era falso, a acção dos sectores com responsabilidades torna a opção impossível.
Porém, é na inacreditável reacção da comunidade filosófica a tudo o que seja mudança que quero centrar a atenção. E a reacção é de inércia. E será esta inércia, esta apatia, esta indiferença, aquilo que contribui para que a Filosofia praticada seja como é — má — e as reformas essenciais não se façam. Aparentemente, desde que esteja garantido um subsídio à investigação, ou desde que o ordenado de cada um esteja assegurado, parece que isso é suficiente. Uma má consciência, havendo alguma consciência, faz-se sentir: quando interpelados acidamente por cidadãos, por pais, por vizinhos, por alunos, sobre a utilidade da filosofia ou que andam realmente a fazer, os filósofos nacionais coram e balbuciam uma resposta tímida, sem convicção e cheia de sentimentos de culpa. Pudera! Como esperamos que alguém compreenda o que se pode ganhar com a Filosofia, se a reacção dos pretensos protagonistas é esta? Como podemos esperar que alguém reconheça o valor dos filósofos e os empregue, se é evidente a incapacidade de demonstrarmos inequivocamente que a Filosofia é algo indispensável em qualquer quadrante da vida pública de um país civilizado? Não é difícil perceber como tudo isto está implicado na questão da empregabilidade. A fraquíssima empregabilidade dos filósofos portugueses é causada, em primeira instância, por esses mesmos filósofos, cuja atitude demissionária ou cuja incompetência filosófica alimenta a mentalidade dominante. Os sectores responsáveis e as contingências sociais apenas a catalisam.
 Há muito que se enraizou a ideia de que o ensino é a única saída profissional. Mas terá de ser assim? Estarão os licenciados em Filosofia portugueses condenados ao desemprego e à esmola familiar? De facto, se se toma o ensino como sendo a única saída, e porque tal saída se esgotou, parece ser este o quadro a esperar. Paradoxalmente, as faculdades continuam a proporcionar formação para o ensino, como se algum daqueles licenciados pudesse vir a exercer funções docentes nos anos mais próximos (e longínquos?). E aqui chegamos ao meu ponto neste artigo. Poucas instituições universitárias tomam como sua a responsabilidade de garantir emprego aos seus licenciados. Muitos dirão que talvez essa não seja uma obrigação das universidades: a estas cabe formar, ao Estado e ao mercado cabe criar as condições de emprego. Quero defender que ambas as coisas não podem ser desligadas. A empregabilidade está certamente dependente das contingências do mercado de trabalho e das intervenções reguladoras do Estado (aliás, o próprio Estado é empregador). Mas a empregabilidade depende, igualmente, da qualidade das universidades e dos cursos aí facultados. Ainda que a falta de saídas profissionais se faça sentir numa dada área — e é o caso de Filosofia e do ensino —, uma formação deficiente apenas estreitará as perspectivas laborais dos licenciados, enquanto que uma formação de qualidade tornaria muito mais amplas as suas possibilidades de emprego. E, se essas possibilidades fossem boas, a falta de empregos no ensino teria uma dimensão menos trágica para os licenciados em Filosofia do que actualmente tem. Cabe, assim, às universidades garantir, pela sua qualidade, a empregabilidade dos seus licenciados. A garantia não tem de ser formal, isto é, não se pretende que o caloiro possa exigir um contrato de trabalho no dia em que ingressa num curso. A garantia a que me refiro é criada pela qualidade do ensino e da investigação. E o mercado empregador, especialmente o privado, percebe o que é uma licenciatura de qualidade. Assim, penso que a par com outros indicadores, as universidades deveriam ser avaliadas pela sua capacidade de inserir os seus (ex-)estudantes no mercado de trabalho. Daqui não se segue que eu defenda um cariz profissionalizante para os cursos aí ministrados; nem se segue a defesa do absurdo de garantir formalmente contratos de trabalho a todos os estudantes. Segue-se, apenas, que as coisas não podem ficar como estão, especialmente no caso de Filosofia.
Há muito que se enraizou a ideia de que o ensino é a única saída profissional. Mas terá de ser assim? Estarão os licenciados em Filosofia portugueses condenados ao desemprego e à esmola familiar? De facto, se se toma o ensino como sendo a única saída, e porque tal saída se esgotou, parece ser este o quadro a esperar. Paradoxalmente, as faculdades continuam a proporcionar formação para o ensino, como se algum daqueles licenciados pudesse vir a exercer funções docentes nos anos mais próximos (e longínquos?). E aqui chegamos ao meu ponto neste artigo. Poucas instituições universitárias tomam como sua a responsabilidade de garantir emprego aos seus licenciados. Muitos dirão que talvez essa não seja uma obrigação das universidades: a estas cabe formar, ao Estado e ao mercado cabe criar as condições de emprego. Quero defender que ambas as coisas não podem ser desligadas. A empregabilidade está certamente dependente das contingências do mercado de trabalho e das intervenções reguladoras do Estado (aliás, o próprio Estado é empregador). Mas a empregabilidade depende, igualmente, da qualidade das universidades e dos cursos aí facultados. Ainda que a falta de saídas profissionais se faça sentir numa dada área — e é o caso de Filosofia e do ensino —, uma formação deficiente apenas estreitará as perspectivas laborais dos licenciados, enquanto que uma formação de qualidade tornaria muito mais amplas as suas possibilidades de emprego. E, se essas possibilidades fossem boas, a falta de empregos no ensino teria uma dimensão menos trágica para os licenciados em Filosofia do que actualmente tem. Cabe, assim, às universidades garantir, pela sua qualidade, a empregabilidade dos seus licenciados. A garantia não tem de ser formal, isto é, não se pretende que o caloiro possa exigir um contrato de trabalho no dia em que ingressa num curso. A garantia a que me refiro é criada pela qualidade do ensino e da investigação. E o mercado empregador, especialmente o privado, percebe o que é uma licenciatura de qualidade. Assim, penso que a par com outros indicadores, as universidades deveriam ser avaliadas pela sua capacidade de inserir os seus (ex-)estudantes no mercado de trabalho. Daqui não se segue que eu defenda um cariz profissionalizante para os cursos aí ministrados; nem se segue a defesa do absurdo de garantir formalmente contratos de trabalho a todos os estudantes. Segue-se, apenas, que as coisas não podem ficar como estão, especialmente no caso de Filosofia.Se o problema já tivesse sido pensado seriamente por quem oferece e por quem procura cursos de Filosofia, o estado de coisas seria diferente: desde logo, porque o modo reinante de praticar a Filosofia, tradicionalmente verborreico, mimético e cinzento, teria de ser banido para dar lugar a uma prática rigorosa, argumentativa, crítica e fecunda, sem a qual a Filosofia continuará a ser "inútil", um mundo de papel bolorento e de filósofos mortos venerados ad nauseum. Quem sabe pensar crítica e rigorosamente, quem sabe disputar pontos de vista argumentativamente, quem tem visão estratégica, utopia e projecto para o mundo que o rodeia não tem problemas de emprego. Mas o licenciado em Filosofia está longe de ter esta formação. Aprende a comentar, a interpretar, a palavrear. Cita autores, faz notas de rodapé, copia bibliografias, parafraseia comentadores. Não discute, nem quer discutir. Não argumenta, nem sabe argumentar. É incapaz de reconhecer um argumento falacioso ou duas teses inconsistentes. E isto torná-lo-á sempre inútil, quer num mundo onde só o dinheiro parece interessar, quer no almejado melhor dos mundos possíveis, onde a Filosofia teria a dignidade perdida. Não é apenas a vida intelectual portuguesa que é pobre: também é a pobreza filosófica em que temos vindo a ser (de)formados, e de que somos cúmplices, que é a nossa desgraça. Há que rebentar com esta apatia, com a comiseração, com o hábito de não sermos (os) melhores. A Filosofia pode ser praticada de outra maneira e essa maneira é seguramente útil à sociedade. Se assim for, o reconhecimento social advirá naturalmente e os licenciados em Filosofia serão certamente recrutados para empresas e instituições e para onde quer que seja necessário alguém munido de um espírito crítico, rigoroso, persuasivo e produtivo.
A nova formação advogada não consiste em substituir apenas umas disciplinas por outras nos currículos escolares, universitários ou do secundário: consiste fundamentalmente em mudar o tipo de trabalho feito em torno dos problemas, das teorias e dos argumentos tradicionais em Filosofia; consiste em nos apropriarmos dos instrumentos críticos adequados para enfrentar esses problemas, teorias e argumentos. Tais instrumentos são entendidos, perversamente, como constituindo a matéria de mais uma disciplina filosófica ao lado de outras — a Lógica. A Lógica não é uma disciplina de símbolos vazios, uma formalização desligada do discurso natural, uma moda anglo-saxónica. Não é apenas mais uma disciplina filosófica cultivada por alguns excêntricos com espírito geométrico e redutor. Ela é a ciência da inferência rigorosa. Mas não é a única: existe, na Filosofia praticada nos países desenvolvidos, uma área praticamente desconhecida da tradição portuguesa e que é designada por "critical thinking". A par com o estudo aturado das várias disciplinas filosóficas, fornece uma formação indispensável para que possa ser feito um trabalho consequente diante dos autores, dos seus livros, das suas teorias e dos seus argumentos. Se houvesse uma formação tendencialmente crítica como a que estou a advogar, ao invés de uma tradição exegética e ensaística, os licenciados em Filosofia saberiam como formular rigorosamente os problemas filosóficos, conheceriam quais as teorias disponíveis, compreenderiam os argumentários existentes e correlativas objecções — numa palavra, saberiam usar a sua razão para debater consequente e vivamente as matérias filosóficas, desenterrando-as das bibliotecas poeirentas. E isso dar-lhes-ia o hábito de pensar estrategicamente; dar-lhes-ia, adicionalmente, uma formação desejada por qualquer instituição ou empresa moderna; dar-lhes-ia, finalmente, um emprego. Esta é a razão pela qual qualquer curso de uma boa universidade europeia ou americana exige e proporciona aos seus alunos o domínio de certos instrumentos lógicos, formais e informais — para que saibam pensar. E pensar rigorosamente é tudo o que é preciso. Mas, entre nós isto é visto como uma presunção, uma rebeldia desviante, uma irreverência de juventude. E assim se fabricam licenciados amorfos, tacanhos, acríticos, tristes. A falência da tradição dita "continental", exegética e pós-modernista, até agora dominante na academia portuguesa, está à vista. Não gera filósofos nem gera empregos. Isto é um argumento factual suficiente para que tal tradição fosse pura e simplesmente banida das faculdades e liceus. À tradição crítica é devido, no mínimo, o benefício da dúvida, estando à vista os resultados animadores que tal tradição tem nos níveis de empregabilidade dos licenciados em Filosofia americanos e ingleses.
A empregabilidade dos licenciados em Filosofia, em Portugal, deve ser tornada um objectivo central dos cursos de Filosofia e é em função dela que tais cursos se devem organizar a nível de currículos e a nível de métodos. Urge mudar o que se estuda e como se estuda em função da utilidade do que se estuda, e esta utilidade é definida em termos de empregabilidade. Perguntemo-nos, por exemplo, onde está a reflexão filosófica nacional sobre o fenómeno das novas tecnologias, omnipresentes na sociedade portuguesa. Que formação têm os licenciados em Filosofia para manipular basicamente um computador? E onde encontrar uma formação consistente em teoria da decisão, cujo saber é crucial no mundo económico moderno? Que sabemos para poder discutir ética empresarial? Onde adquirir as competências argumentativas indispensáveis para qualquer cargo público, para a investigação, para os tribunais, para a política, para os media? Onde aprender a debater os mais prementes problemas éticos que as biotecnologias fazem emergir? Poderá dizer-se que as universidades e os liceus, no que à Filosofia respeita, estão a preparar cidadãos informados, críticos e intervenientes, como se pode ler em qualquer carta de intenções do sistema educativo? Estarão os currículos liceais e universitários a acompanhar o que acontece? Estarão estes (e outros) problemas a ser discutidos consequentemente nas nossas salas de aula? Estarão os professores e, em geral, os licenciados em Filosofia portugueses aptos a liderar o debate destes problemas? A resposta é tragicamente negativa. Não fomos preparados e não nos preparámos para tal. Hesitamos ser "politicamente incorrectos", como Sócrates, e morrer com a cicuta. Não sabemos, sequer, o que fazer para sacudir o torpor e a "apatia terminal", o que ler, o que escrever, onde e como publicar, a quem nos associarmos, o que temos a dizer. Estamos mortos. E aos mortos ninguém dá emprego.
Suponho que alguns verão a tese pragmática que associa os currículos e os métodos à empregabilidade com desconsolo e desconfiança. Muitos insistirão na questão de saber se cabe às escolas e universidades cultivar um ensino profissionalizante. Insisto: ele não está implicado no modelo de qualidade que aqui defendo. E é importante não misturar a universidade com o liceu — neste, quanto menor for o grau de escolaridade, maior deverá ser a generalidade dos currículos, que deverão conciliar a formação humanística e artística com a preparação técnica e científica; naquela, defendo que os currículos e métodos se deverão orientar prioritariamente para a qualidade, avaliada pela bitola da empregabilidade (a par com outros critérios relevantes). As razões pelas quais defendo isto são as seguintes: a formação universitária actual prepara mal os licenciados para o mercado de trabalho, mas também não se vê para o que esteja ela a preparar. Ao assumir sem complexos o ónus de tornar empregáveis boa parte dos seus licenciados, a universidade tomaria um rumo definido e objectivamente avaliável. À espera de dinheiros públicos para que a investigação avance, o cérebro nacional definha, as instalações degradam-se, a funcionalização emerge, o clientelismo alastra. Mas caso o saber que aí se cultivasse e os recursos humanos existentes tivessem outra qualidade e produzissem algo que fosse atractivo para os agentes sociais e económicos, estes tornar-se-iam investidores nessas universidades e na sua massa humana. Numa palavra, a universidade seria tão bom investimento a prazo quanto a especulação bolsista o parece ser a curto prazo. E isto é ilustrado, uma vez mais, pelas simbioses existentes entre as melhores universidades do mundo e os agentes económicos que nelas apostam, beneficiando ambos, e também os países que as albergam. Pelo contrário, as universidades portuguesas continuam a acreditar que se pode investigar e ensinar independentemente do que se passa neste mundo, nem mudando elas, nem sendo capazes de modificar tal mundo. Agarradas ao velho preconceito da (pretensa) independência e da autonomia, continuam a perpetuar uma tradição contemplativa e subsídio-dependente. Os intelectuais invectivam a decadência, talvez real, dos costumes e lamentam a redução do social e do cultural ao económico, dizendo-se mal compreendidos no que andam a fazer, tão mesquinha que é a classe dirigente e tão ignorante que é povo. Pois. Possivelmente, têm alguma razão. Mas a classe dirigente é quem decide, e é eleita pelo povo alegadamente inculto, que é, também, contribuinte. Temos de enfrentar o desafio de produzir saber e recursos humanos que, mais do que lamentar-se, estejam capacitados para intervir e demonstrar que o país não pode viver à sua margem. Temos de tornar-nos úteis a esse país amesquinhado e culturalmente atrasado, para simultaneamente nele podermos intervir. Temos de dar, para que possamos modificar e, então, exigir. E para isso, deveremos preparar-nos convenientemente, o que não tem sido o caso. O divórcio tradicional entre as vacuamente altivas universidades e o mundo de gente materialista e arrogante que, quer se queira quer não, se agarrou à ilusão do consumo, já provou ser desastroso para aquelas e para esta (que parece viver bem com isso). A questão do financiamento do ensino superior é apenas mais uma faceta desse divórcio; o problema da empregabilidade, que aqui importa, é mais outra.
O quadro que tracei não é um exclusivo da Filosofia, ou dos graduados em Filosofia. Mas não encontro consolação em saber disto. A fortiori se exige que tenhamos ideias inovadoras, estratégia, utopia e força de vontade. Sejamos exigentes connosco, com os professores, com os currículos e métodos, e com aqueles que, arrogante e ignorantemente, desprezam a Filosofia. Pensemos sobre o que sabemos fazer bem e como colocar esse saber — filosófico que seja, evidentemente — ao serviço do colectivo. Consequentemente, ao nosso próprio serviço. Abandonemos a esperança em obter, no fim do curso, um emprego pela tradicional "cunha". Envergonhemo-nos da esmola familiar que parece perpetuar-se. Sejamos "empresários filosóficos" (ou filósofos empreendedores) sem complexos, sem preconceitos, sem anátemas, em vez de meros desempregados ou funcionários resmungões e conformados. Estudemos muito e preparemo-nos melhor. Comparemos o que somos com os melhores exemplos estrangeiros, se necessário, para avaliarmos o que nos falta fazer e aprender. Para uma tal comparação, termino com uma sugestão de consulta aos sites abaixo listados, que darão ao leitor uma ideia daquilo que não se passa com a Filosofia em Portugal. Não suponho, é claro, que a vida dos filósofos estrangeiros seja um mar de rosas; mas, se a obtenção de um emprego é um objectivo que depende do mundo, acredito que depende ainda mais de nós próprios.
António Paulo Costa
Copyright © 1997–2010 criticanarede.com • ISSN 1749-8457
Extraído de Criticanarede

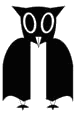






















Nenhum comentário:
Postar um comentário